Postal por escrito: Jodhpur, Índia
Escrito no calor da viagem, em janeiro de 1993. Publicado primeiro na Vip (em versão um pouco reduzida) e depois no livro “Postais por escrito” de 1999. A ilustração é de Pinky Wainer.
Mesmo com cartazes afixados em todos os quartos, e com um mural coloridíssimo na entrada do hotel, repleto de cartas e fotos de ex-hóspedes maravilhados, o “village safari” do hotel Ajit Bhawan não é assim tão concorrido. Conseguimos reservar lugares às 9 da noite da véspera do passeio. No dia seguinte, 8 e meia da manhã, estávamos a postos: duas australianas (mãe e filha), duas canadenses, os dois tupiniquins aqui e ele — o marajá.
Minto: Swaroop Singh é apenas um maraj, sem á, uma espécie de duque ou conde ou coisa que (não) valha. O atual marajá de Jodhpur é seu sobrinho; o último marajá a exercer o poder realmente — nos dois sentidos — era seu tio. Ele, o maraj, vive em outro palacete atrás do morro, e transformou o Ajit Bhawan no primeiro hotel de tradição (heritage hotel) da Índia. Como o maraj ia nos contando, no início do safári, dirigindo ele mesmo o velho jipe, sua intenção era abrir um hotel diferente de todos os outros no mundo inteiro. E, realmente, conseguiu. Se existe uma possibilidade de hospedagem “folk”, com conforto e higiene, em toda a Índia, trata-se do Ajit Bhawan. Os chalezinhos são construídos no estilo das aldeias do lugar, com a decoração enriquecida com coisas que Gaudí teria feito se tivesse passado pela Índia.
Mas — voltemos ao safári. Professoral, Sua Marajeza explica que o objetivo do safári é fazer com que os turistas entendam melhor a Índia e os indianos (uma desculpa para as agradabilíssimas 5 horas de propaganda pró-marajacracia que se seguiriam). A primeira parada é em frente ao Umaid Bhawan, um palácio pesado e exageradamente sem-graça, uma obra mais para faraônica do que para marajosa, a que ele se refere como um “adorável palácio”. Diz ele: “Na verdade, minha família não precisava deste palácio. Mas, no início do século, com a monarquia perdendo terreno para o socialismo e o comunismo em todo lugar do mundo, nós vimos que alguma coisa precisava ser feita. Então resolvemos construir este ‘lovely palace’ para dar emprego a toda mão-de-obra, desqualificada e mesmo qualificada, que estava passando fome”. Sei. Um elefante branco com petit-pois deste tamanhão, e tudo pelo social? Ah, conta outra, sarney. “Nessa mesma época, fizemos construir 400 km de canais para irrigar o sertão.” Ah, bom.
Tenho vontade de perguntar por que eles não construíram o triplo de canais e um terço do palácio, mas felizmente a australiana da frente não permitia intervalos comerciais entre suas perguntas e mais perguntas e mais perguntas. Toda essa terra é do governo? Por que não se pode fotografar vacas mortas? A partir de que idade vocês dão pimenta para as crianças? É verdade que, segundo a teoria do karma, não se deve tentar ajudar os que estão na pior? “Minha cara, você acha justo ir à cadeia e soltar os que ainda não cumpriram toda a pena? Nós acreditamos na teoria do karma, e se não acreditássemos, a Índia teria sido o primeiro país comunista do mundo, antes da Rússia e antes da China.”
Felizmente, a australiana evitava qualquer silêncio constrangedor. Por que todas essas pulseiras nos braços das mulheres? “Quando você vai à praia, você não usa protetor solar? Pois então. As senhoras indianas que trabalham ao sol usam estas pulseiras para manter a pele clara.” Sua Alteza Marajal mantinha um estoque completo de imagens ocidentais para explicar os costumes indianos. Certamente cinqüentão, quem sabe até já entrado nos sessenta, o maraj é dono de uma simpatia singular, uma simpatia autoritária (ou seria uma autoridade simpática?). Pode ter perdido o palanquim sobre o elefante, mas não abandonou a pose — mesmo ao volante de um jipe carregando turistas branquelos pelo deserto do Rajastão. Para tornar o programa mais “selvagem”, ele faz questão de viajar com o vidro frontal e as lonas laterais arriados (os passageiros vão enrolados em cobertores) e, acima de tudo, de não evitar os solavancos das trilhas por onde o jipe vai passando.
Quando a australiana dá uma pausa para respirar, ele vai enumerando as besteiras feitas pelos governos democráticos pós-independência. “No nosso tempo, essa área não era assim, semidesértica. Estão vendo aquelas árvores? Importadas da Austrália depois da independência. Não prestam para o nosso solo. Acabaram com a fertilidade da terra”. Logo ali, uma placa: Governo do Rajastão — Santuário de Pássaros. “Estão vendo algum pássaro?” Nenhum — e olha que eu estou de óculos. “Nada que o governo faça dá certo.” Antes da primeira visita a uma aldeia, uma paradinha num açude do tempo dos marajás, ainda hoje firme, forte e molhado. “É por isso que somos queridos, respeitados e bem-vindos em toda parte por aqui.” Verdade seja constatada: são mesmo. Por todo o caminho, as mulheres sorriem, as crianças dão tchauzinho, os homens juntam as palmas das mãos em cumprimento. Alguns vêm mais perto, então o maraj pára o jipe, distribui balas para os infantes, e já entabula uma demagogiazinha rápida com o cidadão comum. Você já andou de jipe com o Antônio Carlos Magalhães? Eu também não, mas não deve ser lá muito diferente.
Por fim, chegamos ao primeiro ranchinho da visita, três ou quatro cabaninhas de barro, cercadas por um muro baixo e com dependências bovinas anexas. Tiramos os sapatos e, de meias, tentamos alcançar o tapete estirado junto ao portão sem pisar no chão de terra batida. Ao nosso redor, umas 12 pessoas, três gerações de um mesmo clã. Com os turistas devidamente assentados, o maraj recomeça: “Estão vendo alguma sujeira, algum inseto, alguma mosca, alguma barata?” Realmente: aquilo podia ser miserável-miserável-de-marré-deci, mas era de uma limpeza bávara. “Este é o segredo da civilização indiana: a vaca.” Segundo nosso nobre guia, se no lugar da vaca os indianos se cercassem de búfalos, seria uma porcaria só. Sem matar nenhum vacum, os indianos conseguem: a proteína, do leite da vaca; o arado, da força do boi; e o fogo, da bosta seca de ambos.
Surpreendentemente, o fogo de bosta de vaca não cheira mal — e, nas palavras do maraj, sua fumaça é extremamente profilática para os pulmões. “Nenhum indiano tem problemas respiratórios. Vê aquele garotinho? Pode andar nu da cintura para baixo, que não vai pegar micose, nem barriga d’água. E não há cientista neste mundo que me convença de que a água da chuva armazenada naquele poço ali não seja perfeitamente potável.” É incrível, mas o respeito de Sua Marajice para com o povo parece ir muito além de referir às mulheres comuns como “ladies”. Em nenhum momento ele lembra alguém das nossas classes favorecidas falando do povinho — ele parece ter um afeto antropológico pelos seus indígenas, perdão, indianos. Dá para imaginar Fernandinho Collor, daqui a 30 anos, conduzindo turistas japoneses pelos sertões de Canapi, louvando as virtudes da vida sem eletricidade e da dieta à base de macaxeira e rapadura? Tsk, tsk. (Só no dia que lançarem o chapéu de cangaceiro Hermès e o jet-carro de boi-ski.)
“Qual a diferença entre um fazendeiro e um agricultor? — Swaroop Singh é cheio das pegadinhas. Então explica que, na Índia, um fazendeiro produz apenas para a sua subsistência, enquanto um agricultor produz o suficiente para a sua e mais 5 famílias na cidade, trocando sua colheita por alimentos que não cultiva. Ele manda uma das mulheres buscar uma cadernetinha — ali estão anotados os dados do núcleo familiar dela. “Se exceder a 7 pessoas, eles perdem o direito ao arroz, ao açúcar e a todos os mantimentos fornecidos pelo Estado”, aprendemos, quase chocados. Felizmente, estamos em 7 neste grupo — incluindo o maraj — e não seremos desassistidos pela previdência social tão cedo. E quando aquele bebezinho ali casar? (é a australiana, claro). “Ele já está casado”, responde o bigodudo real, antes de completar que a mulher do recém-nascido vai morar aqui, com o clã. (Fico pensando que, se os casamentos no Ocidente também fossem arranjados, a gente poderia dizer — Tá vendo aquele baby? Já está divorciado!)
O mais absurdo é que, por um momento, tudo pareceu muito lógico, justo, funcional: o maraj, dono do campinho, sentado num tapete e cercado de turistas; e o povo, acocorado naquele chão limpíssimo de terra batida, rindo com todos os dentes, no seu figurino desgastado mas extremamente elaborado.
(Parênteses: pobreza indiana não é como a nossa. Em absoluto. Aqui não tem nouveau-pauvre, não. A pobreza aqui é muito tradicional, estabelecida, sofisticada, mesmo. Uma miséria quatrocentona, oitocentona, amealhada durante muitas e muitas gerações, e por isso mesmo cheia de mesuras, cuspidas, escarradas e salamaleques. Pensando bem, viver sem carne é sopa, quando se é vegetariano.)
Na hora do chá, tento interromper o monopólio australiano de interrogações, e começo a formular uma perguntinha. Os indianos chamam “tea” de “tchai”; os japoneses, “tchá”, e nós, em português, “chá”. Será que… Ao que sou abruptamente respondido: “Todas as línguas saíram do sânscrito. No começo, tudo era sânscrito.” Diante de tamanho indocentrismo, desisto de ir até o fim — e indagar se os portugueses levaram o chá daqui para o Japão ou trouxeram do Japão para cá.
Pois bem. Entre o primeiro e o segundo ranchinho, Sua Alteza Guial nos levou por entre gazelas, alces pretos, antílopes, cabritos selvagens, morcegos e pavões-reais, para deleite das canadenses — que eram, diga-se, super-bem-informadas. Elas sabiam do impechment collorido. Grande agitação política no seu país, hein? Sorrio, concordando, e dizendo que tudo correu muito bem. Será que o nosso Royal Chauffeur sabe que o ex-presidente do Brasil se elegeu sob a alcunha Caçador de Marajás? A pergunta é tentadora, mas conseguiria ser mais politicamente incorreta que o próprio safári.
Meio-dia e meia, aterrissamos no segundo ranchinho, já bem menos abissínio que o primeiro, com uma casinha quase normal, uma cozinha separada e um galpão. Num canto do galpão, o que aparentava ser um casal produzia um tapete num tear tradicional. Logo deu para desconfiar que aquele seria o momento show-bizz do safári. Depois de 10 minutos de tecelagem, começou a segunda parte do espetáculo: pegaram o Nick e uma canadense para cristos, e vestiram os dois à indiana. Fotos e fotos depois, fomos levados à cozinha, uma oca cilíndrica (“para ativar a energia”) de barro, com janelas redondas e fundas, tipo escotilhas. Aqui, outra mulher, com o véu tapando o rosto, fabricava chapátis — pães chatos e redondos, tipo panqueca, de farinha e água — que, depois de postos em contato direto com as cinzas quentes, no chão, de novo “para ativar a energia”, seriam recheados pelo sujeito que até há pouco tecia o tapete, e então devorados pelos turistas indianamente esfomeados.
Enquanto comemos, com as mãos, sem absolutamente nenhum nojo de comer aquele pão que andou pelo chão, o maraj explica que, pela cor do véu das mulheres e pela cor do turbante dos homens, é possível dizer sua exata ocupação; se plantam, e o que plantam; se pastoreiam, e o que pastoreiam; se produzem artesanato, e o que produzem. “Quem vai para Cambridge não usa uniforme diferente do de quem vai para Oxford? É a mesma coisa.” Claro. A mesmissíssima coisa. Esta mulher não mostra o rosto porque está na frente de homens estranhos, ou por que está diante de um membro da família real? (Outra pergunta vinda da Austrália.) “Porque está na presença de um membro da família real.” E por que vimos outras mulheres que vieram até falar com o senhor? “Castas diferentes, protocolos diferentes.” Ah, então tá. “Querem ver a cara dela? Eu saio.” E foi até o pátio, rindo, sob os protestos nossos.
A mulher automaticamente levantou o véu, mostrando a cara, e continuou acocorada preparando mais chapátis; nós repetimos o enroladinho de banana, e nos preparamos para voltar. Não sem antes aprendermos, durante as despedidas, que todos os brincos dependurados nos lugares mais impossíveis das orelhas e do nariz das mulheres indianas não estão ali para bonito — mas para resolver problemas respiratórios, digestivos, renais, vasculares e sexuais. Comparando os brincos cientificamente corretos de uma das “senhoras” indianas com os piercings meramente decorativos da filha da australiana, o maraj conseguiu nivelar a mulher ocidental à mais remota aborígene da Nova Guiné. “A orelha é tão importante para o funcionamento dos outros órgãos que nós, indianos, nunca puxamos a orelha de nossos filhos” — e isso funcionou como um puxão de orelha verbal em toda a civilização ocidental. Quer o quê? Safári também é cultura, ora pois.
“As pessoas chegam ao meu hotel como turistas, fazem check-in como hóspedes e saem como meus embaixadores”, disse Sua Marajaridade o Motorista num de seus últimos comentários. Ih, caramba. Talvez eu não esteja sendo um embaixador assim muito diplomático. Desculpa qualquer coisa, viu, seu maraj sem á? O seu passeio é o máximo.

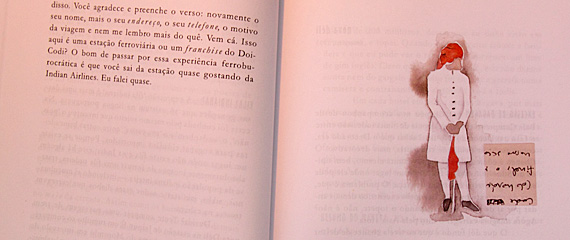
Comentários
Divertidíssimo seu texto mostrando essas singularidades da Índia 🙂 (acho q todo mundo já teve uma australiana no grupo né?! hehe)
Incrível!! A Índia é mesmo demais, o Rajastão em particular.
Muito boa a história, Riq. Me transportei de volta pra lá com seu texto, sem sapatos, comendo chapati e admirando os pavões! 🙂